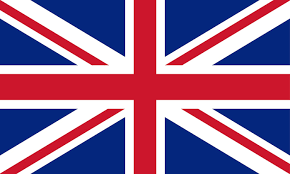![]() Revista Derivas Analíticas - Nº 20 - Março de 2024. ISSN:2526-2637
Revista Derivas Analíticas - Nº 20 - Março de 2024. ISSN:2526-2637
Black Looks (Back)
Colin Wright
Psicanalista,
Membro da London Society of the New Lacanian School (NLS)
e da Associação Mundial de Psicanálise (AMP)
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
 Installation photography of the A World In Common: Contemporary African Photography exhibition, Tate Modern,
Installation photography of the A World In Common: Contemporary African Photography exhibition, Tate Modern,
6 July 2023 – 14 January 2024. © The artists; Photo: © Tate (Oli Cowling). Used with permission.
A expressão inglesa “black look” – como usada em “he gave her a black look” (frase traduzida literalmente por “ele lhe deu um olhar negro”), significando que ele a olhou “furiosamente” – data, aparentemente, do século 18. É claro que é impossível apontar uma origem precisa para esse uso, mas certamente não é um acidente que ele coincida com o rápido crescimento do Império britânico. Poderia ele ter emergido da incidência crescente de encontros entre falantes do inglês e corpos pretos, tanto do lado de fora, nas colônias, como também do lado de dentro, em casa, na metrópole? Utilmente, de nossa perspectiva lacaniana, a expressão “black look” implica ainda a presença de um gozo no campo da percepção, sugerindo o papel que o ódio ao outro pode jogar na constituição do eu no centro de seu mundo. No entanto, uma coisa é dar um “black look”, outra coisa é ser visto por um. Em Pele negra, máscaras brancas, Frantz Fanon conhecidamente descreveu o efeito em sua consistência imaginária de estar sujeito (subjected) a – ou, melhor, objetalizado (objected) por – um “black look” pelo qual o Outro empreteceu (blackened) sua própria existência. Ao ver a novidade que Fanon ainda era como um homem preto nas ruas de Lyon nos anos 1940, uma pequena criança francesa exclamou com medo para sua mãe: “Olhe, um preto!”. Como resultado, o seu “esquema corporal, atacado em vários pontos, desmoronou, cedendo lugar a um esquema epidérmico racial”, deixando detonado seu “tímpano com a antropofagia, com o atraso mental” (FANON, 2008, p. 105).
Ainda que, afinal, todos nós recebamos nosso corpo do Outro, nem todos o fazemos da mesma maneira.
A exposição exibida atualmente no Tate Modern, em Londres, intitulada Um mundo em comum (A World in Common), oferece uma perspectiva diferente sobre o “black look”. Indiscutivelmente, ela coloca em cena uma mudança em paralaxe dos “modos de ver” (BERGER, 2023) eurocêntricos sobre o continente africano, uma mudança que aparentemente ainda é necessária até mesmo no século 21. Ela o faz enfatizando a via da fotografia – claramente relevante para a questão da relação entre o olho e o olhar levantada por Lacan (1964/1988) no Seminário 11. Essa tecnologia desempenhou um papel fundamental no projeto “científico” de conhecer o outro africano por meio de uma roupagem bastante particular do olhar antropológico e etnográfico, centrada em documentar, taxonomizar, classificar, hierarquizar e “musealizar” (museumizing).
A incursão (scramble) europeia pela África foi, em parte, uma incursão para ver sua alteridade (otherness) por meio das lentes de uma câmera. No entanto, sob as vestes da neutralidade científica, esse projeto era também, claramente, um veículo para uma erótica que visava primariamente a exotização de corpos de mulheres pretas. Ecoando tropos anteriores da Vênus Hotentote,[1] as fotografias de mulheres africanas nuas datadas de fins do século 19 e início do século 20 registravam práticas de sacrifício tribais, por exemplo, que apeteceram o prazer sexual de homens brancos, incluindo homens da ciência (sendo o saber também um aparelho de gozo).
Em contraste, Um mundo em comum reúne trabalhos fotográficos contemporâneos realizados por artistas africanos que estão, decididamente, do outro lado das lentes. De forma alegre e desafiadora, eles fazem a curadoria de sua própria autoapresentação de maneira integrada às (e não abstraída das) complexidades da vida cotidiana no continente africano. Nada de museus aqui, somente vida! Ao invés de “black looks” que impõem um desdém objetificante, encontramos, então, fotógrafos pretos, alguns deles mulheres, recusando, zombando da ou jogando com a condição de “para-ser-olhada” (to-be-looked-at-ness) que Laura Mulvey (1983) uma vez propôs como pivô do “olhar masculino” (branco).
De maneira bastante simples, esses fotógrafos africanos constroem imagens que olham de volta para nós, um pouco como a famosa lata de sardinha de Lacan cintilando no mar. Um importante livro no campo dos estudos pós-coloniais foi publicado por Ashcroft, Griffiths e Tiffin (1989), no fim dos anos 1980, com o título O Império Escreve de Volta (The Empire Writes Back): talvez possamos dizer, dessa exposição, que o Império olha de volta. Não que a África só possa ser vista pelas lentes de seu passado colonial. Pelo contrário, ao produzir fotografias que resistem em ser meras imagens feitas sob medida para o olho – com aquela função de domesticação do olhar à qual Lacan (1964/1988) se referiu no Seminário 11 –, alguns desses trabalhos fazem com que o espectador ocidental branco (e este escritor é um deles, embora venha de uma trajetória jamaicana) se sinta visto no seu ato de olhar. Isso pode ser desconfortável, mas, como sabemos a partir da clínica, efeitos de verdade frequentemente o são.
Existem muitas obras dignas de serem mencionadas aqui, então eu irei focar em apenas um conjunto temático, reunido no catálogo da exposição sob o sugestivo título Worrying the Mask (traduzido literalmente por “Preocupar a máscara”, evocando também o significante wearing, que significa “usar”, “vestir” – a máscara) (BONSU, 2023). Máscaras foram centrais para a fascinação etnográfica europeia com África, tanto que elas foram fisicamente apropriadas, colocadas dentro de vitrine em museus/mausoléus e transformadas em fetiches. Sua apropriação está implicada até mesmo na estética do alto modernismo: na famosa pintura de Picasso de 1907, Les Demoiselles d’Avignon, elas estão presentes nos rostos das prostitutas ali retratadas (testemunhando sua posição diante da sexualidade feminina, bem como seu apelo problemático ao “primitivismo” africano). Por contraste, quatro dos artistas incluídos aqui deliberadamente “preocupam” (worry) essa construção europeia da máscara africana, reinserindo-a em rituais locais e tradições, não sem questionamento crítico. Leonce Raphael Agbodjélou, do Benin, captura a prática de performers da mascarada Egungum em funerais de falantes do Iorubá fazendo a mediação simbólica entre os vivos e os mortos, mas precisamente em um momento em que sua prática é ameaçada pelo crescimento das igrejas cristãs pentecostais, as quais a reenquadram como algo pagão ou perigosamente oculto. Se Agbodjélou adota e adapta o uso etnográfico da fotografia para preservar uma parte viva, mas ameaçada de sua cultura, Edson Chagas, um fotojornalista e artista angolano, emprega a fotografia de um modo mais acusatório, endereçado aos antigos colonizadores da África. Sua série Tipo Passe (significando “passaporte”) usa o formato cabeça-e-ombro das fotos de passaporte para desconstruir seu papel na forma da identidade nacional imposta por poderes europeus em um continente ainda caracterizado por identidades tribais complexas. Chagas veste seus retratados sob as modas genéricas do capitalismo global, mas oculta o tipo de identidade que estamos acostumados a procurar – suas faces – sob máscaras tradicionais Bantu. Essas máscaras nos encaram de volta, não escondendo uma identidade de fato, mas exibindo uma que precisamos nos esforçar para ver. Duas artistas levam a mudança de paralaxe ainda mais longe. A vídeo-performance de Wura-Natasha Ogunji, intitulada Will I Still Carry Water When I am Dead? (“Eu ainda carregarei água quando estiver morta?”), faz referências às mesmas práticas Egungun registradas por Agbodjélou. No entanto, ela o faz para destacar as tradições patriarcais que desde sempre excluíram as mulheres de vestir essas máscaras, supostamente muito pesadas para elas, mascarando as várias formas de intenso trabalho físico diariamente realizado pelas mulheres, desde buscar água até a criação das crianças. Finalmente, em uma série de autorretratos intitulados The Invisible Man, Zina Saro-Wiwa, uma artista nascida na Nigéria e ex-jornalista da BBC, veste uma máscara de sua própria construção para desafiar, uma vez mais, a tradicional exclusão de mulheres das práticas de mascarada Ogoni, mas que ao mesmo tempo enraízam sua experiência nas culturas e tradições de Ogoniland (situada na região do Delta do Níger, no sul da Nigéria).
Tal como o divã psicanalítico pode começar a deslocar os analisantes da “inevitável modalidade do visível” (MILLER, 1997, p. 577),[2] também as obras de arte que olham de volta para nós podem fazer a máscara de nossos mundos cair. Um mundo em comum se encerra em janeiro de 2024.
Tradução: Vinícius Lima
Revisão: Virgínia Carvalho
Referências
ASHCROFT, B.; GIFFITHS, G.;TIFFIN, H. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures. London: Routledge, 1989.
BERGER, J. Modos de ver. São Paulo: Fósforo, 2023.
BONSU, Osei (ed.). A World in Common: Contemporary African Photography. London: Tate Publishing, 2023.
FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de R. da Silveira. Salvador: EdUFBA, 2008.
LACAN, J. O Seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Trabalho estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1988. (Trabalho original proferido em 1964).
MILLER, J.-A., A imagem rainha. In: Lacan elucidado: palestras no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.
MULVEY, L. Prazer visual e cinema narrativo. In: XAVIER, I. (org.). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 1983, p. 437-454.
Notas
[1] A noção de Vênus Hotentote tem sua origem em Sara Baartman, uma mulher Khoikhoi do Cabo Leste da África do Sul, que foi mostrada em freakshows, mas também exibida diante de comunidades científicas “ilustradas” em torno de 1810, primeiro na Inglaterra e depois na França. Ela faleceu aos 26 anos de idade. Seu corpo não somente foi dissecado (em vez de receber uma autópsia), com os resultados publicados por George Cuvier, como também seus restos mortais foram exibidos em vários museus de História Natural na França, antes de ser finalmente repatriada em sua terra natal, tardiamente, em 2002, por uma intervenção de Nelson Mandela.
[2] Miller toma essa expressão, é claro, do Ulisses de James Joyce.