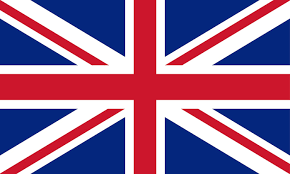![]() Revista Derivas Analíticas - Nº 20 - Março de 2024. ISSN:2526-2637
Revista Derivas Analíticas - Nº 20 - Março de 2024. ISSN:2526-2637
Direito ao informe: o não-todo da arte afro-brasileira e suas
consequências – Uma conversa com o curador Igor Simões
Vinícius Lima
Psicanalista
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
“Eu sou atlântica”. Com essa impactante epígrafe de Beatriz Nascimento,[1] somos convidados a mergulhar na potente mostra Direito à forma,[2] inaugurada em setembro de 2023 e em exposição até março de 2024 no Museu Inhotim, em Brumadinho/MG. Com curadoria de Igor Simões (curador convidado), Deri Andrade (co-curador) e Jana Janeiro (curadora pedagógica convidada), a mostra reúne 60 trabalhos de 31 artistas negras e negros cuja produção se insere numa categoria que é não tanto estética, mas, antes, política: a arte afro-brasileira. Esse é, fundamentalmente, o argumento de Igor Simões, professor, pesquisador e curador da mostra, que nos concedeu gentilmente uma entrevista para este número de Derivas.
Simões é contundente. A arte afro-brasileira não possui uma fórmula: “O artista afro-brasileiro produz o que ele quiser: ele não está definido por um conjunto de temas ou por uma única linguagem formal”. Ele pode falar de raça, mas ele também pode falar de qualquer outra coisa. Que não nos enganemos aqui: a arte afro-brasileira não é sem a raça; mas, definitivamente, não é só sobre raça. A esse respeito, o escritor estadunidense James Baldwin (1984[1955]/2020) abre o caminho, numa bela passagem lida pelo curador em nossa conversa: “Se escrevo tanto sobre a condição do negro, não é por achar que não tenho outro assunto, mas só porque foi esse o portão que me vi obrigado a destrancar para que pudesse escrever sobre qualquer outra coisa”.
Na perspectiva de Simões, dentre os temas trabalhados pelas obras, certamente existem abordagens das questões raciais, porque “esse é o portão que parte desses artistas e intelectuais ainda se veem obrigados a destrancar para poder falar sobre qualquer coisa”. Esse fato é um “resultado das experiências de ser negro no Brasil, mas também de ser negro em qualquer lugar desse planeta”. Trata-se de uma perspectiva pautada pelo materialismo de sua circulação corporal no mundo: “Não há nesse planeta – ao menos eu não me recordo de nenhum – lugar seguro para ser uma pessoa negra. E, se essa condição atravessa a minha experiência de circulação no mundo, é óbvio que esses temas irão atravessar minha leitura”.
Por isso, as questões sobre raça, racismo e negritude estão lá. E não à toa: Simões lembra que o Brasil recebeu 70% dos tumbeiros que saíram do continente africano, constituindo-se como o principal destino da diáspora africana. E, no entanto, no debate internacional surgido há cerca de 50 anos sobre a arte afro-diaspórica, o Brasil tem sido, até então, uma “ausência completa”, notada pelo curador em publicações de arte, catálogos de exposição, coleções e programações de museus mundo afora, na pesquisa que ele empreendeu com materiais de 2001 a 2022. Diante desse cenário, Simões interroga: “Como é possível que, em qualquer lugar do planeta, se pretenda discutir a ideia de uma arte afro-diaspórica sem que o Brasil não só faça parte, como ocupe um lugar de protagonismo no debate?”. A mostra Direito à forma constitui, assim, uma aposta em meio a essa trajetória.
Mas, para além da relevância política que se estabelece nessa exposição do ponto de vista da representatividade no campo da arte afro-brasileira, ela inclui algo mais. Há uma especificidade de sua proposta: trata-se de ir além da figuração do corpo negro, que tem caracterizado com certa frequência a pintura negra no Brasil, em direção a explorar também a abstração formal. “É possível ao artista negro abstrair?”: essa é uma questão levantada pela artista Juliana dos Santos, retomada e desdobrada por Simões no texto de apresentação da mostra: “As investigações formais que não recaem na figuração são possíveis ao artista negro brasileiro?”.
É nesse contexto que se destaca a dimensão atlântica, oceânica, da mostra que particularmente me convocou. Não é por acaso a epígrafe de Beatriz Nascimento (“Eu sou atlântica”), assim como a presença de traços aquáticos, litorâneos em vários dos trabalhos ali presentes, eventualmente materializados pelo próprio Atlântico: em Debaixo dessas, outras cidades e A quem servem os faróis?, da série Sismografias ou mapas do agora, de Thiago Costa; em Desejo-ruína, de Luana Vitra; em Topografias da maré soterrada, de Rebeca Carapiá;[3] em Divisor III, de Ayrson Heráclito; em Quando a cor chega no Azul, de Juliana dos Santos.

Desejo-ruína, de Luana Vitra
Créditos: Daniel Mansur. ©Instituto Inhotim. Usado com permissão.

Topografias da maré soterrada, de Rebeca Carapiá
Créditos: Ana Martins. . ©Instituto Inhotim. Usado com permissão.

Quando a cor chega no Azul, de Juliana dos Santos
Créditos: Daniel Mansur. ©Instituto Inhotim. Usado com permissão.
Simões nos confidencia: antes de chegar a Direito à forma, os nomes pensados para a mostra foram, primeiro, A forma e o oceano, e, depois, Voragem, em referência aos fluxos, ao movimento das marés, a um movimento que engole.
Nesse sentido, decantam-se pelo menos duas camadas dessa referência ao Atlântico na mostra. A primeira delas se conecta diretamente com a experiência da diáspora africana: “Qualquer discussão de arte afro-brasileira é transnacional, porque ela é atlântica”. Trata-se de uma arte que, mesmo sendo produzida a partir de um recorte territorial – o Brasil, organizado pela ficção do Estado-nação –, “necessariamente se conecta com a experiência atlântica”. Está em jogo o caráter diaspórico implicado na experiência de navegação forçada dos corpos negros entre África, Europa e América, que desloca seu horizonte de pertencimento rumo a um espaço situado entre esses continentes e banhado pelo próprio Atlântico. Nessa direção, é Simões quem nos conduz: “O Atlântico é uma experiência que não tem um modelo pré-determinado, porque ela tem a ver com fluxos, com trocas. Ela não é puramente africana, não é puramente europeia e não é nem puramente brasileira. Mas ela acontece a partir dos fluxos que foram produzidos ao longo de séculos”.
Desloca-se, assim, qualquer resquício de metafísica da substância que buscaria essencializar um pretenso “lugar de negro”. Simões enfatiza, por exemplo, que o trabalho do artista André Ricardo, presente na mostra, traz códigos e experiências da arte europeia, ao mesmo tempo em que está em diálogo profundo com o brasileiro Rubem Valentim, além de ser “o resultado da produção de um artista negro brasileiro que não necessariamente precisa lidar com questões de racialização, e isso para mim era muito importante”. Em sua enunciação, o curador nos parece assumir uma posição política que nos leva a um terreno liberado da “obrigação de relacionarmo-nos a uma identidade” – maneira como Jacques-Alain Miller (1997, p. 428) nomeou certa vez a função discursiva do significante-mestre (S1).
E aqui esbarramos na segunda camada do Atlântico envolvida na mostra, na medida em que o direito à forma acaba por tocar também, e mais fundamentalmente, no direito ao informe: naquilo que excede a forma, a identidade e a figuração, remetendo, portanto, à dimensão do opaco e do ilimitado, de uma alteridade radical, daquilo que não cabe em uma caixa qualquer. Para essa dimensão, o atlântico parece oferecer um valioso suporte metafórico. Foi por esse motivo que Simões disse que era muito importante, para ele, começar a exposição “com uma representação do oceano. Da questão oceânica, mais do que do oceano. Que lidasse com coisas que estão juntas, que se interpenetram, mas mantêm seus contornos. Que é o trabalho de Ayrson Heráclito”, intitulado Divisor III. Começar a exposição com esse trabalho era levar o debate exatamente para esse ponto do informe.

Divisor III, de Ayrson Heráclito
Créditos: Daniel Mansur. ©Instituto Inhotim. Usado com permissão.
Seu primeiro contato com essa obra ocorreu no início dos anos 2000. Na verdade, tratava-se de sua antecessora, Divisor II, uma obra com 3 metros de altura, exposta em uma Bienal Mercosul: “Eu sempre penso esse trabalho como uma grande síntese desse debate: um artista lidando com materiais que têm uma memória, que têm uma tradição, o sal, a água e o azeite de dendê, informando sobre uma questão que teve muitas imagens, a maioria delas imagens de violência, mas que não lança mão dessas imagens. Que apresenta um trabalho numa linguagem profundamente contemporânea. Mas que traz esses conjuntos, esses três elementos, que estão em constante disputa entre a manutenção de seus próprios limites e aquilo que acontece quando esses limites explodem, porque eles se misturam. Só que eles levam muito tempo para se misturarem”.
Nesse ponto da conversa, diante de uma pergunta relativa ao título da mostra, proponho a Igor a categoria do informe, que me parecia ser muito mais o efeito produzido pelos trabalhos do que a forma propriamente dita. Mobilizado pela pergunta, o curador afirma: “Eu tenho convicção de que o direito à forma é a própria possibilidade do informe”. E prossegue: “Falar de direito à forma é também falar do direito a nem pensar em forma, direito de ir além da forma”. A seu ver, “advogar pela possibilidade de diferentes caminhos para artistas afro-brasileiros toca nesse informe”, pela heterogeneidade que aí se apresenta – esboçando o que podemos considerar como um conjunto aberto, aquele que não tem uma lei de formação passível de ser aplicada igualmente para todos os seus elementos; é preciso verificar um a um.
É o que vemos, por exemplo, ao acompanharmos o seguinte percurso descrito por Simões: se seguimos em linha reta, partindo do centro da exposição, começamos com o trabalho oceânico de Ayrson Heráclito, passamos pelos Estandartes de Castiel Vitorino e chegamos ao Campo elétrico de Rebeca Carapiá, que propõe curtos-circuitos entre os materiais e o corpo de quem está lá. “Estamos falando desse deslimite do que pode um artista negro. Porque são três caminhos completamente distintos”, em termos de materialidade, de escala, de linguagem artística.

Campo elétrico 01: raiva, sal, saúde e tempo, de Rebeca Carapiá
Créditos: Daniel Mansur. ©Instituto Inhotim. Usado com permissão.
A seu lado, as pinturas de Ana Cláudia Almeida e Lucia Laguna “deformam a paisagem”, enquanto o traje egungum de Eneida Sanches (Dança dos Mortos Egunguns), que emite projeções sonoras, “parece a forma da coisa, mas é só a exterioridade da coisa” – uma espécie de forma oca. Trata-se, para Simões, de uma exposição que “embaça”; e que se propõe a embaçar, particularmente, as ideias preconcebidas, as expectativas prévias sobre a arte afro-brasileira.

Dança dos Mortos Egunguns, de Eneida Sanches
Créditos: Tiago Nunes. ©Instituto Inhotim. Usado com permissão.
Sob os efeitos de nosso encontro com a mostra Direito à forma e com Igor Simões, talvez possamos nos servir dessa dimensão não-toda que informa a arte afro-brasileira para retornarmos à metáfora freudiana da feminilidade como um dark continent, não sem as contribuições mais tardias do ensino de Jacques Lacan. Pois trata-se, hoje, de ir além da ideia demasiado unitária de um continente, que acaba por dar a impressão de uma unificação possível – do feminino, da negritude – ali onde não há. A esse respeito, a mostra pode nos ensinar a contrapor essa imagem por meio da heterogeneidade, da multiplicidade e da singularidade implicadas na arte afro-brasileira – mais afim à lógica do não-todo –, ao dar lugar àquilo que dessa experiência se coloca para além dos limites da identidade e da essencialização.
Foi nesse sentido que se destacaram para nós as duas camadas do Atlântico envolvidas na mostra: por um lado, pelas marcas da diáspora, o Atlântico inclui a dimensão inapagável da identidade; mas, por outro lado, está também o mais além, pelo movimento, pelos fluxos, que apontam na direção do não-identitário, dimensão em jogo na criação artística e, particularmente, na abstração formal. Trata-se da dimensão litorânea presente na mostra: entre centro e ausência, entre a forma e o oceano, entre África e Brasil.
Nessa perspectiva, a mostra talvez nos ensine a tomar não apenas a arte afro-brasileira, mas a própria negritude, pela via do não-todo, por aquilo que não se oferece a uma totalização/generalização e que remete à opacidade inerente ao ser falante, aqui desvelada pela experiência artística afro-diaspórica. No limite, o Direito à forma coloca em evidência um registro da alteridade em que não se é apenas Outro para os outros, mas particularmente Outro para si mesmo. Aqui, a abstração formal na arte afro-brasileira parece dizer respeito à possibilidade de o artista negro poder se conectar com sua própria alteridade êxtima, sem precisar se referir à alteridade, a todo instante, pela chave da dominação social, permitindo, assim, aproximar-se do seu próprio informe.
Referências
BALDWIN, J. Notas de um filho nativo. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. (Trabalho original publicado em 1984[1955]).
MILLER, J.-A. Lacan elucidado: palestras no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.
Notas
[1] Beatriz Nascimento foi uma importante historiadora e intelectual negra brasileira, nascida em Sergipe e radicada no Rio de Janeiro. Viveu entre 1942 e 1995.
[2] Juntamente com a mostra Fazer o moderno, construir o contemporâneo: Rubem Valentim, também em exposição no Inhotim, Direito à forma integra o Programa Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra.
[3] Vale ressalvar que este trabalho de Rebeca Carapiá pertence à mostra Fazer o moderno, construir o contemporâneo: Rubem Valentim. No entanto, Igor sustentou que as exposições estão interligadas; que a parede do fundo da exposição de Rubem Valentim é, também, pintada de um azul oceânico, de certa forma anunciando o que estaria por vir em Direito à forma.